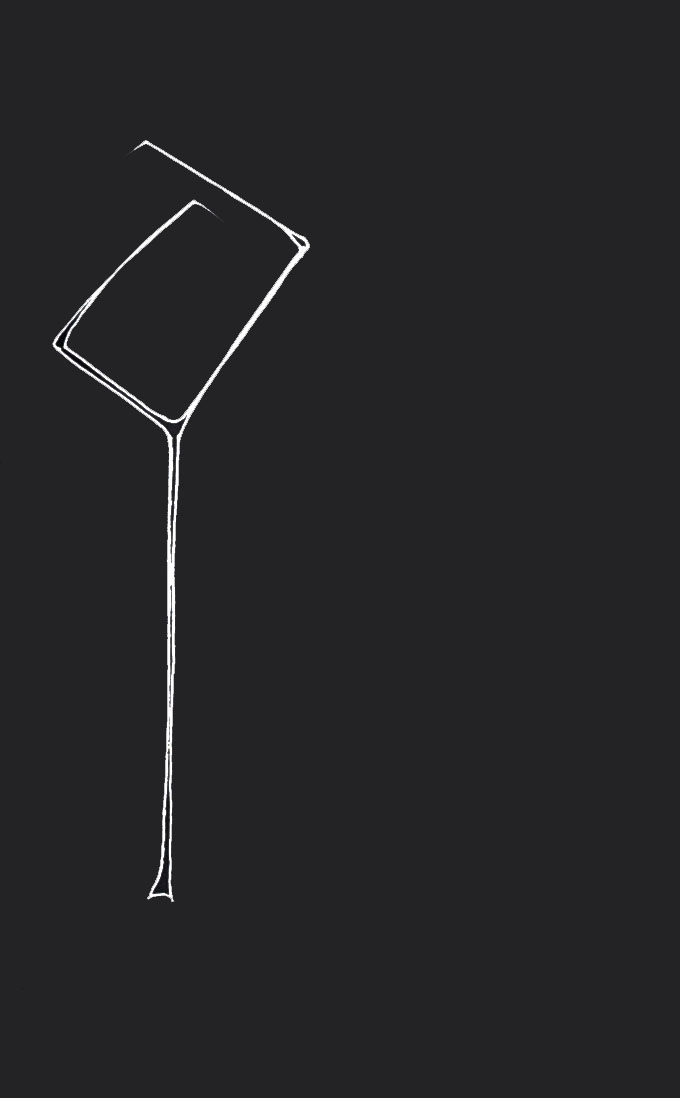|
| |
|
|
| |
Dizer que, por causa dos homens, [os deuses] quiseram ornar esta admirável natureza do mundo […], ó Mêmio, é loucura!
Lucrécio apud Marques, 2016: 60. |
|
| |
|
|
Quais são as fronteiras biofísicas do planeta que a humanidade deve respeitar para que riscos deletérios sejam evitados e para que não aconteçam disrupções ambientais e climáticas catastróficas em escala global? Essa pergunta norteou um artigo de ampla repercussão nas ciências ambientais, publicado por Johan Rockström em 2009, no qual se constatou que a atividade humana implicava um fator de desequilíbrio em todas aquelas fronteiras ecológicas para as quais se havia buscado definir critérios objetivos que traduzissem os limites da resiliência planetária: acidificação dos oceanos, depleção da camada de ozônio, poluição e sobreuso dos recursos hídricos, alterações no ciclo do fósforo e desgaste dos solos. Já no que diz respeito ao ciclo do nitrogênio, à perda da biodiversidade e às mudanças climáticas, o artigo apresentou um diagnóstico ainda mais sombrio, concluindo que a humanidade já havia ultrapassado os limiares ecossistêmicos que podem acarretar mudanças irreversíveis e comprometer a reprodução da vida humana tal como hoje a conhecemos (cf. Rockström et al., 2009).
Em Capitalismo e colapso ambiental, Luiz Marques empreendeu uma ampla e bem documentada investigação que teve por objetivo desvendar os nexos fundamentais entre o modelo econômico vigente e a emergência do “antropoceno”, uma nova era geológica que se caracteriza pela interferência humana sobre os ciclos homeostáticos da biosfera. O autor chama a atenção para o fato de que os diversos relatórios e estudos que nos alertam sobre a gravidade e os riscos da crise ambiental não tiveram como contrapartida uma mudança de curso em nossas relações predatórias com a natureza. Ao invés disso, as estatísticas mais recentes indicam uma aceleração dos processos de devastação, cujo motor deveria ser procurado na lógica intrinsecamente expansiva do sistema capitalista de produção e consumo de mercadorias.
Luiz Marques define, então, o sistema capitalista como uma “máquina produtora de crises ambientais” (Marques, 2016: 25), e o cerne dessas crises residiria na contradição fundamental entre o caráter potencialmente infinito da acumulação capitalista, por um lado, e os limites da resiliência planetária, por outro. Isso porque, para evitar cenários recessivos, as economias nacionais precisam manter taxas anuais de crescimento do PIB que, por sua vez, repercutem sobre os ecossistemas, tanto na forma de maior extração de recursos como na forma de mais poluição e dejetos. “O tamanho ideal do mercado capitalista é, por definição, o infinito. Contrariamente ao organismo, se o mercado capitalista não cresce, ele se desequilibra” (Marques, 2016: 535). Nesse sentido, o fio condutor do livro é a tentativa de desconstruir a ilusão de que o capitalismo poderia desenvolver-se de maneira sustentável, particularmente tendo-se em vista que a maior participação relativa das “atividades imateriais” não implicou um encolhimento da dimensão propriamente material das economias nacionais, mas, pelo contrário, provocou um aumento em termos absolutos da pressão sobre os recursos naturais e a capacidade adaptativa dos ecossistemas.
Assim sendo, Luiz Marques considera falaciosa a ideia de que o capitalismo contemporâneo tenderia a um progressivo “descolamento” do crescimento econômico em relação às suas bases materiais. Principal responsável pela emissão de gases do efeito estufa, o setor de energia comprova a validade dessa crítica na medida em que os progressos realizados no uso de fontes renováveis não trouxeram consigo a “descarbonização” da economia. De maneira geral, os planejamentos energéticos nacionais indicam uma priorização das metas desenvolvimentistas em detrimento de políticas de mitigação das mudanças climáticas, e uma evidência disso foi o aumento de 45% na produção global de carvão entre 2003 e 2013, que, segundo os prognósticos do setor, tende a permanecer numa trajetória ascendente até converter-se, por volta de 2030, na principal fonte de geração de energia elétrica no mundo (cf. Mills, 2013).
Tal como apresentadas e implementadas na atualidade, as políticas de “desenvolvimento sustentável” não se mostram capazes de evitar o colapso ambiental porque se baseiam em estatísticas e metas que representam uma falsa solução de compromisso entre a lógica capitalista e a dinâmica dos ecossistemas. Mesmo que alguns países estejam efetivamente ampliando a participação das fontes renováveis, o aumento da demanda energética agregada significa que os combustíveis fósseis continuarão a ser largamente utilizados para garantir o crescimento econômico ilimitado. “Apesar de seus avanços, as energias renováveis não estão substituindo os combustíveis fósseis. Estão contribuindo apenas para saciar a insaciável voracidade energética do capitalismo global” (Marques, 2016: 18).
Ao fim e ao cabo, as promessas relativas à taxação do carbono mostraram-se um completo fracasso. Ali onde esse comércio de fato existe, cada tonelada de carbono é negociada a preços irrisórios, ao passo que os governos nacionais continuam a fornecer incentivos anuais de mais de um trilhão de dólares aos combustíveis fósseis, seja em subsídios diretos ou indiretos. Ainda que um número cada vez maior de países esteja investindo em tecnologias alternativas, isso se deve primordialmente ao alto valor agregado dessas indústrias (cf. Souza et Cavalcante, 2016), mas sem que os investimentos atinjam um volume compatível com a urgência das mudanças climáticas e representem uma transição efetiva para um novo paradigma energético.
De maneira análoga, os ambiciosos programas de eficiência energética implementados na China desde o décimo plano quinquenal vieram paradoxalmente acompanhados de um maior volume de emissões. Os administradores das indústrias alcançaram as metas de aumento de eficiência e conservação estabelecidas pelo governo, mas essas medidas não tiveram como efeito a redução da sua pegada de carbono, pois a diminuição da intensidade energética foi neutralizada por um aumento da produção que sobrepujou os ganhos ambientais anteriormente obtidos (cf. Gu, 2015). Desse modo, o conceito de “intensidade energética”, tal qual manipulado pelos representantes do governo e da indústria, apresenta um verniz de sustentabilidade, sem levar em consideração, no entanto, o prejuízo que o aumento pantagruélico do volume de produção acarreta para a totalidade ecossistêmica.
A segunda “ilusão” que Luiz Marques busca desconstruir em seu livro diz respeito ao pressuposto de que “maior excedente” equivale a “maior segurança”. Não obstante essa equação pudesse ser considerada válida até meados do século XX, ela inverteu-se no período do pós-guerras, de forma que a ampliação da riqueza social deixou de representar estabilidade para converter-se em insegurança e calamidade. O autor situa essa discussão nos marcos da “environmental justice” – corrente do pensamento ambientalista que sublinha a contradição de a produção capitalista ser dirigida pelos interesses de uma minúscula plutocracia, enquanto os prejuízos ambientais recaem principalmente sobre as populações pobres do Sul global (cf. Alier, 2014). Assim, em que pese o fato potencialmente desestabilizador de que os países do Atlântico Norte terão que lidar com um fluxo inaudito de “refugiados ambientais”, são os países do Magreb, Sahel, Oriente Médio, Índia e Bangladesh que tendem a arcar de maneira mais imediata e severa com o ônus da elevação do nível do mar e com as alterações dos ciclos hídricos (cf. IPCC, 2007), inclusive porque seus governos não dispõem dos recursos para implementar as medidas necessárias de adaptação às mudanças climáticas.
Em outras palavras, o incremento vertiginoso do excedente não apenas não representou o fim da miséria para 2,2 bilhões de indivíduos e não somente foi incapaz de retirar outros 800 milhões da condição de pobreza, como ainda colocou os estratos inferiores da população mundial nas situações de maior vulnerabilidade ao colapso ambiental. Com as mudanças climáticas, espera-se que aumente em 40% o número de pessoas vivendo em escassez hídrica absoluta e, em virtude disso, também os riscos de que a falta de água possa desencadear conflitos militares (cf. Souza et Ferreira, 2016).
Os prognósticos científicos apontam similarmente para um agravamento dos processos de desertificação na maior parte da África, América Latina e Sudeste Asiático. Do ponto de vista da produção de alimentos, as secas mais graves – juntamente com a subsunção da agricultura ao comércio global de commodities – farão com que em 2050 mais da metade da população mundial dependa da importação de alimentos (cf. Ravilious, 2013). Muitos países europeus afundam hoje na insegurança alimentar, e o recrudescimento da fome tende a se agravar em face da poluição das águas e do solo que o uso intensivo de fertilizantes químicos tem provocado.
Numa palavra, a inversão da tese de que a produção de um maior excedente acarretaria ganhos de estabilidade para as sociedades humanas leva o autor ao diagnóstico de que a expansão continuada da economia capitalista está em vias de fazer com que a crise ambiental se converta em colapso. Luiz Marques argumenta que os pareceres dos relatórios ambientais disponíveis são relativamente conservadores porque a complexidade e as incertezas relativas aos fenômenos em questão dificultam uma avaliação das sinergias entre os diferentes componentes da degradação ecológica.
No caso da floresta amazônica, por exemplo, sua progressiva devastação não acarreta somente uma diminuição gradual da capacidade de absorver carbono da atmosfera e de conservar a biodiversidade ali existente. O número cada vez maior de clareiras potencializa o “efeito de borda”, aumentando a exposição das árvores da periferia da floresta às alterações bruscas de microclima e à ação da radiação solar, da luz e do vento (cf. Laurance et Luizão, 2007). Nessa situação de maior estresse hídrico ou de temperatura, prejudica-se a fotossíntese e a circulação da seiva, de modo que o desmatamento pode chegar a um ponto crítico em que os danos deixam de progredir linearmente e a floresta colapsa por si mesma [forest dieback]. Tendo-se em vista que os ciclos de evapotranspiração da Amazônia constituem um fator-chave para o regime de chuvas do Brasil e de seus países vizinhos, um eventual processo de savanização – se conjugado com o aumento de temperatura e prolongamento das secas que as mudanças climáticas devem acarretar – poderia eventualmente lançar uma parcela importante da América do Sul num cenário desolador de escassez hídrica.
Luiz Marques apropria-se, portanto, da definição que Dennis Meadows oferece para “colapso” enquanto “[...]processo que implica o que se chama uma retroação positiva, ou seja, um fenômeno que reforça o que provoca” (Meadows apud Marques, 2016: 518). Assim, outro exemplo que ilustra o caráter retroalimentativo e não-linear da crise ambiental rumo a um colapso ecossistêmico seria o derretimento dos pergelissolos na plataforma do Ártico siberiano ocidental. Essa camada de gelo funciona como uma tampa que mantém uma quantidade de carbono preservada na forma de metano da ordem de cem bilhões a um trilhão de toneladas. Cientistas do International Artic Research Centre alertam que o aquecimento das temperaturas nessa região começa a provocar fissuras no pergelissolo que podem a qualquer momento ocasionar uma vasta eructação desse metano na atmosfera, acelerando de maneira exponencial o fenômeno das mudanças climáticas em direção ao “ponto de não retorno” (cf. Pearce, 2013).
Já a terceira “ilusão” criticada em Capitalismo e colapso ambiental refere-se às diversas modalidades de narrativas antropocêntricas que a humanidade fabricou ao longo de sua história. Desde o livro do Gênesis – onde a tradição judaico-cristã situa o homem no ápice da criação divina – até o idealismo kantiano, que o enxerga como o receptáculo da moral e único ser doador de sentido e dotado de razão, as sociedades forjaram no decorrer de seu percurso histórico narrativas que estabeleceram o homem como “fim supremo” e permitiram-lhe degradar a natureza e o mundo à condição de simples meios destituídos de dignidade própria (cf. Arendt, 1958).
Nos últimos quinhentos anos, a razão instrumental subjacente à ilusão antropocêntrica, apoiada num desenvolvimento inaudito das forças produtivas, teria desencadeado uma “sexta extinção”, comparável em magnitude às cinco extinções em massa precedentes da história da Terra. Calcula-se que a taxa de extinção atual seja pelo menos mil vezes maior que as taxas de extinção anteriores à expansão humana, com avaliações reportadas pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha de que entre 150 e 200 espécies desaparecem diariamente.
| |
|
|
| |
Um terço dos anfíbios do mundo, um quinto dos mamíferos e 70% de todas as plantas estão ameaçados. […] Das 47.677 espécies avaliadas, 17.291 estão ameaçadas de extinção. Mais de 1.000 espécies de peixes de água doce estão ameaçadas de extinção; 12% das espécies de pássaros conhecidas, 28% dos répteis e 35% dos invertebrados estão ameaçados; […] Cerca de 114 plantas estão nas categorias “extintas” ou “extintas na natureza” (UICN apud Marques, 2016: 378). |
|
| |
|
|
De acordo com Luiz Marques, o capitalismo erode a teia da vida animal e vegetal por duas vias distintas. Por um lado, a perda de biodiversidade relaciona-se de modo direto e imediato com a mercantilização da fauna e da flora, seja por caminhos institucionalizados, seja em decorrência do tráfico ilícito e da biopirataria. Por outro lado, esse fenômeno constitui um reflexo das dificuldades que várias formas de vida encontram para se adaptar às alterações ecossistêmicas provocadas pelo capitalismo global. Nesse contexto, o agronegócio responde por 70% da perda de biodiversidade, sendo possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre 15 mil commodities e a ameaça a 25 mil espécies. Não menos preocupante tem sido o declínio acelerado dos insetos polinizadores em razão do uso quase indiscriminado de inseticidas e as ameaças que essa queda traz à “segurança alimentar”, visto que “das 100 espécies de culturas que fornecem 90% da alimentação mundial, 71 são polinizadas pelas abelhas” (PNUMA, 2010).
O colapso da biodiversidade manifesta-se de forma também drástica no ambiente aquático. Um indício das perturbações em curso tem sido o decréscimo da concentração global de fitoplânction, que constitui a base da cadeia alimentar nos oceanos. Além disso, a diminuição da concentração de oxigênio em certas áreas tem causado a expansão daquelas zonas conhecidas como “cemitérios marinhos”, onde não há espaço para vertebrados e outras espécies de vida multicelular. Em suma, os principais vetores para o que Luiz Marques denomina “extermínio da vida aquática” são agrupados numa lista de dez impactos antrópicos nos quais se incluem o represamento dos rios, a sobrepesca e a poluição (navios petroleiros, resíduos de plástico, fertilizantes).Os efeitos sinérgicos do colapso manifestam-se ainda nos impactos negativos do aumento das temperaturas e da acidificação dos oceanos sobre os corais, que funcionam como ponto de apoio ecossistêmico para mais de um quarto da vida marinha.
Em resumo, os diagnósticos acerca da perda de biodiversidade confluem para um cenário distópico que se caracteriza pela contração radical das formas de vida existentes. Assim, a irracionalidade expressa na maneira pela qual a economia capitalista incide sobre a natureza aponta para o surgimento de uma “hipobiosfera” hostil à reprodução de inúmeras formas de vida, incluindo-se a vida humana. De agora em diante, as sociedades terão que se defrontar com os “efeitos bumerangue” de suas intervenções e administrar as consequências de retorno negativo que derivam de sua relação com o meio ambiente. Por essas razões, Luiz Marques observa que uma importante especificidade da “sexta extinção” é que pela primeira vez as ações da espécie dominante colocam em jogo a sua própria preservação.
| |
|
|
| |
É útil lembrar que (...) o homem isolado da biosfera e do sistema Terra em geral não é nem “real”, nem “concreto” e que abstraí-lo desse sistema é aniquilá-lo. Qualquer que seja sua ideia de si e qualquer que seja a medida (ou desmesura) de sua pretensão, científica ou religiosa, o homem só existe porque está ligado umbilicalmente a tudo que ele não é (Marques, 2016: 508). |
|
| |
|
|
Depois de ter demonstrado lógica e empiricamente que o sistema de produção e consumo vigente é incompatível com a homeostase dos ecossistemas, os esforços do autor concentram-se, então, em refletir sobre modelos alternativos que permitiriam às sociedades humanas redefinirem a posição que ocupam na biosfera. No seu entender, a construção de uma via civilizatória que integre as sociedades ao meio ambiente deveria levar em consideração um programa pautado pela ideia de “decrescimento administrado” que, para além de uma simples diminuição quantitativa do PIB, estaria vinculada a uma reorientação qualitativa dos objetivos do sistema econômico.
A premissa sine qua non para que o programa de “decrescimento administrado” efetive-se na prática consistiria numa radicalização da democracia que retirasse das grandes corporações e devolvesse ao conjunto dos cidadãos o controle sobre as decisões concernentes aos fluxos de investimentos. A justificativa para um redesenho institucional que fortalecesse a democracia residiria, em primeiro lugar, na constatação de que o gerenciamento das grandes empresas possui enorme reverberação sobre o funcionamento das sociedades, sem no entanto reservar o menor poder de influência às pessoas que sofrem diariamente as consequências dessas decisões. Em segundo lugar, uma radicalização democrática ofereceria um corretivo para as distorções éticas do sistema, visto que os únicos interlocutores perante os quais os gerentes do capital sentem-se responsáveis e devem prestar contas são os acionistas de suas próprias empresas.
| |
|
|
| |
Se a British Petroleum, por exemplo, renunciar a um investimento potencialmente lucrativo por causa de seu impacto ambiental, os investidores terão duas alternativas: substituirão o responsável por essa decisão “verde”, se tiverem poder para tanto; ou, se não tiverem, reorientarão seus investimentos para outras corporações ou mesmo outros setores da economia que apresentem melhores possibilidades de remuneração de seu dinheiro (Marques, 2016: 537). |
|
| |
|
|
A ênfase no fortalecimento de uma esfera pública efetivamente democrática ofereceria ainda a chave para a compreensão das relações que o autor estabelece entre “tecnologia” e crise ambiental. Ao contrário daquelas representações bastante enraizadas no senso comum, que enxergam a tecnologia como uma solução deus ex machina que permitiria à humanidade escapar à hecatombe ecológica por soluções mirabolantes de geoengenharia sem a necessidade de desmantelar o capitalismo, Luiz Marques argumenta que, na ausência de controles democráticos que reorientem suas finalidades, as soluções técnicas evoluem cada vez mais no sentido de acelerar, e não de conter o ritmo da devastação do planeta.
À medida que o capitalismo tem esgotado os recursos naturais existentes e que se constata um decréscimo dos ganhos marginais obtidos pelos instrumentos convencionais de exploração, as inovações tecnológicas assumem um caráter paulatinamente mais invasivo que garante ao sistema – ao menos temporariamente – a manutenção do ritmo de acumulação. Em outras palavras, a menos que a tecnologia e a ciência sejam politicamente redirecionadas em prol da meta de “decrescimento administrado”, a tendência é que as inovações sigam o modelo das tecnologias de exploração do petróleo em águas profundas, do fraturamento hidráulico para gás de xisto e da pesca por redes de arrasto, isto é, poluam e devastem proporcionalmente mais para cada dólar acrescentado ao PIB.
Enquanto no plano nacional Luiz Marques advoga a favor de um redesenho institucional que aprofunde os mecanismos democráticos e contribua para a descentralização dos processos decisórios, no plano internacional o autor argumenta que a solução de governança para a crise ambiental dependeria de um reforço do multilateralismo. A margem de manobra reservada ao Estado-nação seria reduzida pela própria natureza transfonteiriça de problemas como a chuva ácida e as mudanças climáticas, de forma que não haveria qualquer resposta efetiva por fora de um enquadramento cosmopolita (cf. Beck, 2005). No entanto, o que se assistiu ao longo das duas últimas décadas foi uma sequência de desenlaces frustrantes a cada reunião promovida pelas Nações Unidas para a busca de alternativas que pudessem conter o aquecimento global. Isso porque os Estados nacionais atuam na prática como Estados corporativos que desregulam as legislações trabalhista e ambiental para assegurar sua competitividade numa globalização “race to the bottom”. Luiz Marques demonstra, portanto, seu apoio à criação de uma Organização Mundial de Meio Ambiente, mas salienta que ela se tornará apenas mais um conselho burocrático e inóquo, caso esteja subordinada ao FMI, OMC e à lógica de Bretton Woods.
Considerando-se, portanto, que a ideia de “decrescimento administrado” de fato possa representar uma alternativa ao colapso ambiental – e, consequentemente, ao colapso das sociedades humanas –, resta saber qual o ator social capaz de traduzi-la num programa político e numa estratégia de ação, juntamente com todas as demandas de redesenho institucional subjacentes a essa proposta. Tal questionamento reflete a angústia de Luiz Marques ao constatar que, mesmo a esquerda socialista, portadora histórica da crítica ao capital, não estaria disposta a abandonar um certo viés desenvolvimentista que concede uma importância secundária às preocupações ecológicas.
Com efeito, uma análise detalhada das organizações de esquerda ao redor do mundo comprovaria que – embora muitas delas já tenham refutado o caráter autoritário do Estado soviético – ainda não se formulou uma crítica consistente ao retumbante desastre ecológico provocado pelo regime stalinista. Com exceção de coletivos minoritários que se autodenominam “ecossocialistas”, a esquerda ainda compartilha com Schumpeter e outros economistas burgueses o pressuposto de que a economia – e não o meio ambiente – deve ser o paradigma da lógica a partir da qual as sociedades se autorrepresentam. Dessa forma, a esquerda reduz sua prática a um modelo puramente sindicalista, voltado para a mera redistribuição da mais-valia, e no qual a luta de classes é travada num cenário etéreo, completamente diferente do mundo real, onde não existem rios, oceanos, ar, uma vasta gama de seres vivos e todos os fenômenos atmosféricos dos quais depende o metabolismo societário.
Nesse sentido, o caso brasileiro é emblemático, segundo Luiz Marques, porque seus maiores desastres ambientais foram o resultado de políticas públicas patrocinadas pelo Estado quando uma agremiação de esquerda estava no seu comando. Ainda que a aplicação do Código Florestal tenha sido responsável pela queda do desmatamento durante os primeiros dez anos dos governos petistas, a opção pela aliança com os ruralistas levou a uma reforma que flexibilizou a legislação ambiental, provocando assim um violento recrudescimento do corte raso e da degradação na Amazônia. Além disso, a esquerda no governo tomou para si os projetos desenvolvimentistas concebidos durante a ditadura militar e iniciou a construção de usinas hidrelétricas faraônicas na Bacia Amazônica. A “cereja do bolo” da política ambiental da esquerda brasileira traduziu-se, paralelamente, na carbonização da matriz energética nacional, com destaque para a propaganda ufanista em torno da exploração do pré-sal.1
Na realidade, o problema acerca da impermeabilidade da esquerda às questões ecológicas tem sido objeto de investigação científica há pelo menos 20 anos. Representante neomarxista da sociologia ambiental norte-americana, Allan Schnaiberg identificou nos países desenvolvidos uma coalizão entre Estado-corporativo, mercado e organizações trabalhistas em torno dos interesses da “linha de montagem”. De maneira paradoxal, os sindicatos mobilizavam seus recursos organizativos no sentido de atender as expectativas geradas pelo universo consumista no imaginário dos trabalhadores, ao passo que as reivindicações ambientalistas eram depreciadas por seu “caráter pequeno-burguês” (cf. Schnaiberg et Gould, 1994). Embora menos cético à viabilidade de um “sindicalismo verde”, Jeff Schantz também verificou que, a não ser em circunstâncias muito excepcionais, não se desenvolveu até o presente uma sinergia de interesses entre movimentos trabalhistas e ativistas ambientais. Seu argumento baseia-se na constatação de que os trabalhadores mantiveram-se reticentes frente aos ecologistas porque entendiam os vínculos causais por eles estabelecidos entre produção econômica e degradação ambiental como uma potencial ameaça à manutenção dos seus empregos (cf. Schantz, 2012).
Tendo-se em vista a ausência de organizações anticapitalistas de massas que tenham como meta redefinir a posição das sociedades na biosfera, os argumentos de Luiz Marques em torno do “decrescimento administrado” e da radicalização da democracia para a superação da crise ambiental chegam a um impasse. Ora, as dificuldades enfrentadas para a construção de um movimento ecologista efetivo não se resumem apenas ao descompromisso das organizações de esquerda, mas ao vácuo político e a insuficiência de lastro social dessa pauta. Embora sejam consistentes do ponto de vista lógico, os argumentos de Luiz Marques sobre a radicalização da democracia como alternativa ao colapso não abordam a fundo a contradição de que os patrocinadores do “crescimento ilimitado” ditam o ritmo das políticas econômicas porque foram legitimados pelos mecanismos representativos da democracia.
Mesmo que Donald Trump não leve em consideração o enorme consenso científico acerca do caráter antropogênico das mudanças climáticas e apresente-se abertamente como defensor do uso indiscriminado de combustíveis fósseis, foram as urnas que o sagraram presidente dos Estados Unidos. Aliás, a legitimação democrática de governos cujas políticas contribuem para acelerar o colapso ambiental está longe de se restringir à América do Norte. Essa contradição manifesta-se também nos países vistos como mais abertos ao discurso ambientalista. Na Alemanha, o governo de Angela Merkel viu-se forçado pela pressão popular a desmantelar o complexo de usinas nucleares após a tragédia de Fukoshima. Apesar disso, essas usinas foram substituídas em sua grande parte por termoelétricas movidas a carvão, sem que o aumento nas emissões de CO2 acarretasse um prejuízo significativo à popularidade da chanceler.
A ênfase que Luiz Marques imprime ao diagnóstico de Freud em Mal-estar na civilização revela, porém, que o autor enxerga com certo pessimismo o desenlace do colapso ambiental. Aos seus olhos, não existe nenhuma garantia de que as sociedades humanas conseguirão promover uma readequação racional de suas atividades econômicas que respeite os limites biofísicos do planeta. Ao invés disso, o aperfeiçoamento da tecnologia tem dado vazão a manifestações primárias de agressividade e reforçado o caráter pulsional da acumulação capitalista e do consumismo frenético. A angústia dessa incerteza não se confunde com fatalismo, nem tampouco com a negação da possibilidade de um aprendizado coletivo que reordene os vínculos do homem com os ecossistemas. A questão principal, no entanto, é saber se as transformações culturais necessárias serão processadas no curto intervalo de tempo que os prognósticos científicos nos deixam antes que a crise evolua para um colapso ecossistêmico e o mundo se converta num lugar onde “humanos possivelmente não poderão, ou não desejarão, sobreviver” (Gershwinn apud Marques, 2015: 435).
Referências bibliográficas:
Alier, J. M. (2014). O ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto.
Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago: University Press.
Beck, Ulrich (2005). Risk Society: towards a new modernity. London: Sage.
Freud, S. (2011). O Mal-estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras.
Gu, Lijing (2015). “Planejamento econômico e eficiência energética – entrevista concedida a Luiz Enrique Vieira de Souza”, IN: Relatório final (FAPESP 2014/25933-2).
Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
Laurance, W. F.; Luizão, R. C. C. (2007). “Driving a wedge into the Amazon”, IN: Nature (448), 409-10.
Marques, L. (2016). Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Editora Unicamp.
Mills, M. P. (2013). The Cloud Begins With Coal. Big Data, Big Networks, Big Infrastructure and Big Power. An Overview of the Electricity Used by the Global Digital Ecosystem (em rede).
Pearce, F. (2013). “Vast methane belch possible any time”. NS,27/VII/2013.
PNUMA (2010). “Emerging Issues: Global Honey Bee Colony Disorder and Other Threats to Insect Pollinators”, www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Global_Bee_Colony_Disorder_and_Threats_insect_pollinators.pdf.
Ravilious, K. (2013). “Over half the world's population could rely on food imports by 2050 – study”. TG, 7/V/2013.
Rockström, J.; Steffen, W.; Noone, K.; Persson, A.; Chapin, F. S.; Lambin, E.; Lenton, T. M.; Scheffer, M.; Folke, C.; Schellnhuber, H. J.; Nykvist, B.; Wit, C. A.; Hughes, T.; Leeuw, S.; Rodhe, H.; Sörlin, S.; Snyder, P.; Constanza, R.; Svedin, U.; Falkenmark, M.; Karlberg L.; Corell, R. W.; Fabry, V. J.; Hansen, J.; Walker, B.; Liverman, D.; Richardson, K.; Crutzen, P.; Foley, J. (2009). “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity”, IN: Ecology and Society 14 (2) 32.
Schnaiberg, A.; Gould, K. A. (1994). Environment and Society: The Enduring Conflict. New York: St. Martin's Press.
Shantz, Jeff (2012). Green Syndicalism: An Alternative Red/Green Vision. New York: Syracuse University Press.
Souza, L. E. V.; Cavalcante, A. M. G. (2016). “Towards a sociology of energy and globalization: Interconnectedness, Capital and Knowledge in the Brazilian solar photovoltaic industry”, IN: Energy Research & Social Sciences (21), 145-54.
Souza, L. E. V.; Ferreira, L. C. (2016). “Energias Renováveis e Segurança Hídrica: A energia termossolar como alternativa para a dessalinização da água do mar no Norte da África e Oriente Médio”, IN: Sustentabilidade em Debate 7 (1) 15-28.
|
![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037